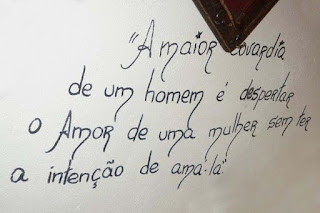Querida tataravó,
Decidi acomodar uma série de
cartas sinceras e irreverentes em um arquivo privado, para serem publicadas quando o
que vivemos agora, no Brasil, tenha se tornado história, quando estivermos
mortos, a maioria de nós. Elas não têm
nada demais, apenas registram uma mágoa que era legítima até dois mil e quinze,
mas agora não existe mais, pois fomos tomados todos, nós os subordinados aos
que mandam nesse país, por uma condição de refugiados que nos apavora e nos põe
em guarda, desolados e combatentes. Mas ainda retornarei ao assunto das mágoas,
sempre legítimas, sempre necessário o direito de serem faladas e entendidas.
Nessa carta aqui, também iniciada
em 2012, o assunto era uma cena de estupro que eu não vi, mas ouvi. Estava eu falando a você sobre a
Simone de Beauvoir e o Fernando Henrique Cardoso em suas teses sobre a condição
de coisa no agir da espécie humana. Lembro agora de Paul Veyne, no História da Vida Privada, quando ele diz
ser o escravismo um objeto de estudo mutante, que não se deixa apreender
inteiramente nunca, isto é, a cada vez que tentamos entender uma situação de
indivíduos ou coletividades escravizadas notamos que há conteúdos ou formatos
que escapam ao nosso entendimento. São híbridos. Lembro também de um brasileiro
chamado Ricardo Benzaquen de Araújo que definiu um conceito (um enredo
conceitual) sobre o território simbólico e emocional no qual acontece a
situação de escravidão. Ele descreveu como uma situação onde violência e
confraternização se realizam juntas, imbricadas, sem que haja propriamente um
confronto, uma antítese e uma consequente síntese. A situação do escravo e do
dono é um lugar onde não há negociação entre contraditórios, há um enredo mole,
líquido, polimórfico e perverso. Uma perversidade que começa na maldade, mas
cansa e acaba se estendendo para formas sadomasoquistas ambíguas, perenes,
equilibradas. Daí Ricardo buscar em Gilberto Freyre, outro brasileiro pensador
da década de trinta do século vinte, a ideia de equilíbrio híbrido e estável.
Esta carta trazia um relato de
uma cena muito incômoda testemunhada por mim, lá por 2009 em Imbituba, Santa
Catarina, Brasil. “No início de minha vida no exílio que escolhi, pois fugi de
Porto Alegre, como já contei, não sabia dirigir carros, ainda, embora já
estivesse com quase cinquenta anos, por essa razão aluguei uma casa perto do trabalho,
longe da praia onde moro agora. Na casa ao lado havia um jovem aparentando uns
28 anos e uma mulher mais jovem ainda que o visitava nos fins-de-semana. Eles
faziam sexo umas duas vezes por dia, durante os dois dias de sábado e domingo,
e ela gritava, desesperada, pedindo para ele parar: "Chega! Chega”! Gritava
como se fosse esfaqueada, torturada. Depois ela soltava risadas nervosas e
debochadas. Na primeira vez entrei em alerta máximo e pensei em chamar a
polícia, socorrê-la, salvá-la; depois vieram as risadas e entendi ser aquilo um
ritual estranho. O pescador que alugava o andar de baixo de sua casa para mim,
estivador aposentado, disse ser uma cena habitual, parecendo um estupro mas
sendo apenas um jeito ruidoso e maluco de fazer sexo. Naquele dia, eu imaginei
que ela estivesse sofrendo uma penetração anal violenta, dolorida; gritava
pedindo para que ele parasse, gritava sem parar. A meu ver ela sofre de alguma
maneira, é incômodo e a deixa esgotada, abusada, sofrida. Imaginei uma cena
onde a mulher está à mercê de sofrer uma violência insuportável, mas essa
violência acontece de um modo mitigado. Parece então estar a mocinha magra e
branca atuando para dar limite a seu parceiro, acelerar a ejaculação e reduzir
o risco de ser machucada, ela grita por achar que é assim que se deve fazer,
representar, existir como fêmea no mundo do encontro sexual. Ela aprendeu a
fazer sexo dessa maneira. É uma cultura que preserva a idéia de sexo violento,
no qual a mulher padece de dores na vagina e no ânus. Sangramentos,
deformações. Muitas prostitutas provavelmente comportam-se assim e mulheres
casadas, fiéis e cristãs praticantes, também. Mas todos estamos cansados - sobretudo
cansadas - de saber que o pênis dos homens comuns está longe de ter tanta
potência de invasão e desejo de maus tratos como esses gritos descrevem, em se
tratando de uma mulher adulta e experiente. Creio que, até onde eu vivi, a
maioria dos homens tende a machucar o parceiro penetrado, vez ou outra, mas
mais por imperícia e ignorância do que por uma perseverante maldade. Essa falta
de competência do parceiro que penetra ocorre até mesmo em relações entre lésbicas,
porque até ali predomina a intuição humana de que o sexo deve mover-se por meio
de uma virilidade inconsequente, insensível ao sentimento e ao corpo alheio. E
é intuição porque brota de um entendimento anterior à linguagem, ao pensamento;
sentida como inata, natural, orgânica. O que esse ato sexual da menina branca e
do guri de vinte e oito anos(ato no sentido de teatro) faz é recordar o estupro
de crianças ou pessoas muito jovens por adultos transtornados, ou a violência
de um coito anal consentido porém
descuidado. É um código, uma linguagem, uma memória. E, ainda, as risadas
nervosas e debochadas acabam por dar a impressão de ser uma memória traumática,
como poderia ser a de uma menina rotineiramente abusada pelo padrasto, pelo
irmão ou tio, ou mesmo o próprio pai. Mas por que me ocorre tudo isso? Por que
eu conheço esse imaginário, essa intuição? Acho que ela é um tabu, uma presença
demonstrada desde o berço do bebê, mas não falada, não pensada. Uma tradição
arquetípica presente nas cartas do tarô, na bíblia, no alcorão, nas rezas em todos
os cantos do mundo humano há setenta milhões de anos”.
Mas o que é o viril, Zeferina? Lembro-me
agora de uma vez, no trabalho em Porto Alegre, quando rimos tão divertidas e
aconchegadas, nós, as jovens operárias do judiciário trabalhista brasileiro.
Foi lá por mil novecentos e oitenta e nove, pouco menos ou mais, quando éramos
ingenuamente políticos todos nós. Foi outra cena. Uma de nós estava lendo um
processo e falou, em voz alta, para ser ouvida e respondida: “mas o que é o
varão”? Isso porque em processos judiciais é preciso saber exatamente o conteúdo
jurídico implicado no termo para tentar evitar erros de interpretação. A moça
que perguntou queria saber o exato sentido da palavra, ali naquele contexto.
Foi quando assomou, em uma cena mágica, um belíssimo homem adulto no balcão,
lindo mesmo, forte, belo, jovial, energizado. Eu diria agora, em 2017, já
velha, um belíssimo exemplo de acontecimento viril. No segundo seguinte à
pergunta o sujeito mostrou-se e disse: “É o marido!”. E nós quedamos
embevecidas, entre risadinhas disponíveis ao sexo bom. Ele riu, foi atendido e
foi embora. Voltamos a trabalhar, na época, tranquilas, porque em oitenta o
local de trabalho, comparado com o de hoje, era muito bom. Penso agora que a
mesma intuição onde o ativo sexual tem a prerrogativa – e talvez a função – de atacar
e machucar tem, no interior de suas composições simbólicas e emocionais, a
noção de proteção, prazer e segurança para o subordinado.
Dizia eu na carta posta aqui,
em 2012, “As práticas sexuais da humanidade estão longe de serem efetivamente
viris, no sentido de levarem as mulheres e homens penetrados a maravilhosos
orgasmos ou, ao menos, a um intenso prazer. No sentido de viril como aquele
responsável por garantir a segurança, a tranquilidade, a conveniência e
perfeição do ato sexual feito por um sujeito inteligente, capaz de seduzir e
convencer com a palavra e o gesto sutil. As tentativas do movimento feminista
para divulgar a reflexão sobre o tema foram pouco difundidas e durante muito
pouco tempo; logo depois do feminismo ser combatido, no Brasil, pelo próprio
sindicalismo nascente após a ditadura militar e pelo pensamento autoritário
comum, surgiram as delegacias de mulheres, as organizações não governamentais,
as leis de proteção ao idoso, à mulher, aos negros e às crianças, fazendo com
que a preocupação contra a violência e o abuso ganhasse o foco da filantropia,
do controle do excesso, do combate ao espancamento, ao assassinato, ao encarceramento
privado e ilegal. No entanto, as feministas das décadas de 1970 e 80 propunham
a reflexão sobre todos os aspectos, até os mais sutis, da violência embutida no
erótico e no sexual, dentro da tradição cultural. As primeiras feministas da
luta contra a ditadura queriam discutir o prazer conjunto entre os parceiros
humanos. Em 2012, o sexo que aparece e é falado nas grandes mídias não existe, na realidade
cansada e assustada a imensa maioria; o avanço
do empoderamento das mulheres é um discurso voltado para o consumo
individual, imerso na fragilidade. O imaginário do estupro é mais forte do que
as modernas regras civilizadas porque talvez ele esteja relacionado com o
conjunto do mundo e da história humana, o mundo do trabalho, da escravização.
Ficam duas perguntas: a violência tem mais potência de realizar e manter
memória, na espécie humana atual, do que a confraternização, solidariedade e
delicadeza? O campo mórfico das atitudes violentas tem mais ressonância desde
sempre, nos humanos, do que o campo mórfico da solidariedade”? Eram estas as
perguntas da carta posta aqui.
Hoje, retomando aquela carta,
Zeferina, eu me pergunto como é possível termos um país devastado pelo medo e o
aumento explosivo da violência urbana e, ainda assim, sendo cenário de
sorridentes e belas mulheres falando nas televisões sobre direitos das mulheres
e injustiça dos homens. Elas usam saltos muito altos, às vezes muito finos, ou
muito grossos, roupas inventadas como se fossem fantasias de carnaval, ou
outras que se parecem um pouco –ainda que apenas insinuem – com aquelas roupas
da nobreza europeia dos reis e rainhas do século dezoito, antes da revolução
francesa. Algumas delas brincam de intimidades femininas, risonhas e
despreocupadas, em frente às telas das tevês. E nós aqui, chorando, sofrendo,
apanhando nas ruas. Homens e mulheres perdendo empregos, salários devidos e não
pagos, perdendo postos de saúde, remédios e escolas, perdendo frágeis casinhas
erguidas com sofreguidão. Isso tudo traz a minha memória aquela antiga frase do
Paul Veyne, quando ele diz ser o escravismo um cenário mutante e terrivelmente resistente.
Ou Ricardo Benzaquen, afirmando ser a perversidade escravista híbrida e estável.
Só um sujeito escravista pode divertir-se pujantemente enquanto o outro, objeto
de seu domínio, tem medo, sofre e chora. E somente um escravo consegue acionar
uma cena na qual ele teatraliza a inversão de um domínio, inversão possibilitada
pelo excesso, o vício e a insensatez do mandante. A escravidão é uma fórmula, um enredo,
próprio da história e não da bioquímica do macho e da fêmea, penso eu. Há quem
pense exatamente o contrário e defenda o desmanchamento dessas constituições
físicas da mulher e do homem, milenares, para dar lugar a invenções
bioquímicas. Estes se pensam como sendo os melhores humanos, os que pensam
melhor, os inventores. E eles estão no poder.
versão dois.