2 – Espíritos absolutos
Querida
Zeferina,
Nunca me esqueci de uma resenha de um
livro na Folha de São Paulo, faz uns 12 anos, 2004 talvez. Era sobre a difusão
de conteúdos dos pensadores mais clássicos, em filosofia, política, economia,
antropologia e psicanálise, de tal maneira que muitos humanos comuns sabiam
falar sobre eles sem ter lido mais do uma página sobre o autor. A mãe, que se
orgulha de ler em inglês, traduziu uma parte pra mim e o autor dizia que talvez
esse grande grupo de leigos soubesse falar melhor sobre os conteúdos porque
falavam de entendimentos que se impunham à maioria. Os especialistas não raro
forçavam interpretações talvez arriscadas demais, ou condizentes com os seus
partidos políticos da época. Hoje, escrevendo essa carta, fui ao Google e achei
o autor, Pierre Bayard, um professor, psicanalista e escritor francês, segundo
uma resenha no topo da lista dessa colossal e infinita biblioteca virtual. O
nome do livro era Como falar dos livros
que não lemos, editado em português no ano de 2007, pela editora Objetiva.
A resenha dizia ser “o domínio de uma obra ‘lida’ um conhecimento frágil e
fugidio”. Outra resenha trazia, como título, a ideia de que alguém, para falar
sobre um livro não lido, precisaria ter lido um conjunto enorme de livros,
dando a impressão da existência de uma capacidade de erudição erguida como uma
pirâmide centralizando toda a linguagem a partir do seu topo, em uma gigantesca
engrenagem de produção de escritas no mundo humano, de cinco mil anos até hoje.
Talvez esse livro do Bayard tenha sido uma vidência sobre o desmoronamento
dessa pirâmide e a abertura para um mar de resenhas, páginas, frases soltas nas
redes sociais, linguagens e entendimentos dispersos e sem vínculos. Não há mais
um controle eficiente sobre o que pode ser escrito e o que deve ser lido e como
ler, então posso escrever para ti, Zeferina. Finalmente.
Nunca li
Hegel, mas sei de sua escrita sobre o espírito absoluto de todo o acontecimento
humano, e sempre imaginei ser esse espírito a verdade derradeira e
inquestionável sobre todas essas escritas, livros e frases, a verdade sobre
essa pirâmide controlada pelos discursos dos eruditos, a se
projetar na história dos tempos futuros, desmentindo – total ou parcialmente –
o dito pelos especialistas em livros de autores célebres. Talvez eu tenha lido alguma coisa, sei lá, interpretações
sobre Hegel, textos esquecidos ao modo anunciado por Pierre Bayard em seu livro
nunca lido por mim, dele eu tenho conhecido a dedicada tradução literal da
minha mãe, de seu primeiro capítulo, palavras de mãe que eu adorei e jamais
esqueci. Assim que falar com um morto pode ter algum sentido hegeliano, pode
estar relacionado a comunicar-se com a verdade geral, aquela que governa tudo
no mundo. Então falar de um modo sem
medo de não ser entendida ou aceita. Ser indefinida ou imprecisa, rascunhar e
reescrever sem dizer de si própria “eu sou uma escritora com direito a texto”,
ou “eu não sou ninguém, ou eu sou ninguém e não posso deitar um texto no mundo,
só posso ler os outros”. Não julgar, não ser julgado; repensar e estar em
contato sempre, no ato presente, com essa verdade geral. Algo como “Memórias
Póstumas de Brás Cubas”, mas invertido, um Machado de Assis virado ao avesso,
um direito a ser sem ser Machado de Assis ou alguém com direito a palavra. Mas
é mais que isso porque é falar com uma mulher que deu à luz outra pessoa, um
homem muito cruel, e este era o pai de outra que era minha avó. De verdade. Então
seria falar sobre herança, talvez herança de desejos e de identidades. E, ainda,
falar de identidade, relendo o Zigmunt Bauman, e de uma identidade agoniada,
por vezes submetida a homens cruéis, vezes rebelde, em ruptura com esses mesmos
homens, os homens do Érico Veríssimo, fugindo deles, Zeferina e as outras,
mulheres rebeladas, dissimuladas, traumatizadas, elas também cruéis um sem
número de vezes. Há coisas importantes sobre os homens gaúchos não contadas nos
livros do Érico Veríssimo.
Falando
em desejos, o tal espírito absoluto hegeliano poderia também abrigar alguma
ideia de “homem da vida”, não? Pois é, essa carta começou em 2010, dessa maneira:
“Esfriou bastante. Estou cansada de abrir caixas e carregar móveis, com dores por
todo o corpo, talvez por isso minha voz trêmula ao telefone. Falava com um
Tristão. Acho que quase todas as mulheres que aceitam ou procuram homens para
amar acabam tendo um Tristão. As mulheres do final do século vinte e início do
vinte e um então, muitas delas, tendo mais de um desses em suas vidas: o cara
no qual ela joga todas as fichas, se atira como se fosse mergulhar em uma linda
piscina natural de peixinhos coloridos e água ensolarada e, quando se dá conta,
em geral entre os trinta e os quarenta e tantos anos, quando não há mais tempo
para uma nova estratégia, quando se dá conta o cara estava apenas passando por
ali. Ulisses sem Penélope, o cara apenas passava em uma viagem na qual você, eu,
não iria ser parte da bagagem dele por mais de um período. Não para a vida
toda, não o homem da vida. A mesma mitologia que nos levava a acreditar em
Tristões, nos encorajava a empunhar bandeira a céu aberto contra a ditadura militar,
em 1979, como se essa ditadura fosse muito fraca e imoral que pudéssemos
derrubá-la com gritos, e, ao mesmo tempo, muito forte e miserável que
devêssemos apenas gritar nossos desejos ingênuos: queremos só o que é nosso. Mas,
afinal, o que mesmo era nosso? Nunca soube o motivo da ligação, minha voz
acabou trêmula pelo frio e pelo cansaço de ter de falar com ele, mais uma vez,
uma fala sem destino, sem vínculo, mais um momento de abandono. Falei como
sempre, sobre o mundo, sobre a vida. Antigamente, na época da ilusão, me
encorajava pensando que se eu sobrevivesse ele reconsideraria. Penélopes
esperando as voltas dos homens. Que nada, ele virou um homem comum, desses que
se vê nos espaços públicos e você nem vê outra coisa a não ser uma multidão
informe e sem graça, ilhada em uma covardia exagerada, temerosa, assustada,
impotente. Só mais tarde entendi que aquele homem não era o cara certo pra mim”.
Essa
é uma história muito louca das mulheres, penso agora, seis anos depois. Das
mais tímidas evangélicas, até as mais bem sucedidas prostitutas, passando pelos
inúmeros pontos intermediários na escala milenar dos livros lidos, as
descrições das santas às abandonadas, todas facilmente elegem o último homem
que tiveram como o único homem de verdade dado a ela pelo destino. Passamos
facilmente de um grande amor a outro, até que as circunstâncias da vida determinem
o fim da procura, uma acomodação, uma solidão ou uma vitória “meu marido”. Seguia
a carta de 2010: “Minhas mágoas estão começando a sair, desmanchadas pelo ar e
vento desse mar lindo e grande. A máquina de lavar instalada, grandona, bonita
e eficiente, um pátio enorme e cheio de vento e sol. Minhas reflexões estão
menos urgentes, levando-me a crer que talvez dê tempo, talvez eu não morra tão
cedo”.
Eu queria
que desse tempo para escrever muitas cartas para Zeferina, pra ti, mas hoje o
tema do Tristão não mais me atrai. Isso aí foi uma lenda medieval onde dois
reinos enviaram seus filhos para se enfrentarem, eles eram uma princesa e um
príncipe, Tristão e Isolda, e se apaixonaram, mas se combateram e foram
infelizes até a morte. Estava então
escrevendo, em 2010, sobre aquilo das mulheres contarem sobre os homens que vão
embora, que as amam mal, as abandonam. Aquilo que as mulheres ora os condenam e
choram “ele destruiu a família”, ora dizem “ele era uma droga mesmo”. Depois
dos trinta anos até as mais feministas, na maior parte dos casos, começam a se
preocupar com o objetivo “família”, mesmo de um modo discreto, velado. “Vou
casar” dizem sorrindo o sorriso da vitória. “Em uma união estável” no mínimo,
no sobre das redes sociais. O “homem
da vida” seria um espírito absoluto? Ou seria uma parte desse espírito, um pedacinho
dele para cada uma das mais afortunadas, isto sendo um lugar de pequenas
variações, contradições e sínteses, amarradas por grandes conteúdos mutantes,
mas sempre retornando almas fundamentais, como essa do “homem da vida”. Confesso que desde o primeiro momento em que
vi essas meninas vestidas de preto, lá por 2012 começaram no Brasil,
autodenominadas “vadias”, senti aquela decepção feminina típica, tradicional,
arquetípica, tão cruel, um misto de inveja e de crítica madura da mulher mais
velha acerca das brincadeiras alegres das mocinhas de pele fresca e macia.
Pensei “mas no meu tempo eram saias de panos de fralda, entremeadas de rendas,
tudo muito transparente, seios jovens dentro de camisetas de algodão, sem
sutiã, uma coisa hippie; gritávamos por liberdade”. Ponderei “agora elas gritam
por liberdade também, mas não a mesma que bradávamos em 1978, e com essas
roupas de novela das oito da Rede Globo, roupas de teatro, e afrontam
diretamente os homens, impõem desafios ostensivos, cospem no chão quase”, e
conclui “isso não vai dar certo, isso não fara nem cócegas no desejo mais
profundo de cada uma delas e de todas as outras para quem elas falam”. Desprezei,
mas aplaudi como era obrigado dentro do código de conduta rígido daquela
esquerda que se impunha, mas que logo se viu desmantelada pelos homens mais
distantes do espírito absoluto “homem da vida” que o Brasil poderia produzir.
Talvez homens barba-azul, minotauros de gravata e ternos escuros. Você sabe muito bem de que homens estou
falando, Zeferina, os homens do Érico Veríssimo. Coitadas das meninas dos
movimentos das “vadias”, das chamadas “marchas”, parece até que elas foram o
espírito absoluto, o de Hegel mesmo, vomitando as bacantes da tragédia grega de
Eurípedes em um cenário prestes a mergulhar em uma convulsão chamada por muitos
de golpe, um sofrimento a conta-gotas e que se tornou permanente, a partir de
2016. E eu com essa detestável conduta de velha de sempre, cética de uma
descrença de china velha dos campos, também eles absolutos, do Rio Grande do
Sul, pensando o que as velhas sempre souberam, pensando “eu sabia”. Sabia o que
as velhas sempre sabem, ao menos as
gaúchas, as Anas Terras, isso que o tal espírito absoluto está careca de saber.
As meninas precisam ser protegidas, as mulheres jovens precisam de homens
fortes e mulheres velhas cuidando delas. Essa propaganda de mulheres jovens
andando livres por aí não é a verdade da grande pirâmide dos livros, não está
no espírito absoluto do Hegel. As mocinhas frescas precisam de proteção para
que possam vadiar em lugares protegidos, vadiar em paz, lamento dizer essa
verdade, Zeferina, tu sabes, assim como as mulheres adultas sonham com bons
maridos, a certa altura da vida. As ditaduras não são derrubáveis, elas vão
embora quando se cansam de nos agoniar.
versão dois. foto: Ireno Jardim
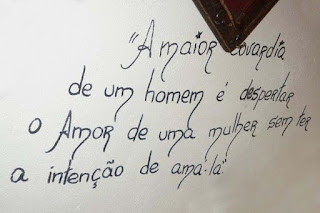
Nenhum comentário:
Postar um comentário